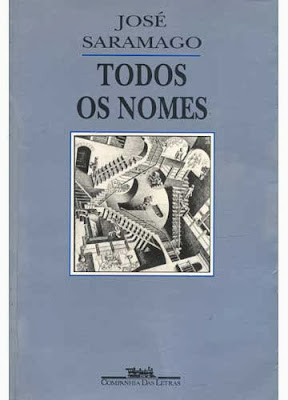Natal chinês
A senhora Tung chegava dois dias antes da consoada. Costumava vê-la logo de manhã, com a irmã jardineira, no pátio maior, a admirar as laranjeiras anãs nos vasos de loiça. Via-a casualmente a contemplar, embevecida, o presépio do convento. Encontrava-a por fim à mesa.
A senhora Tung viajava todos os anos da Formosa para Macau, na época do Natal, a fim de festejar o nascimento de Cristo na companhia da sua primogénita, a irmã Chen-Mou.
Nesses dias, com as meninas em férias, o refeitório do colégio parecia maior e mais desconfortável: só eu e Miss Lu nos sentávamos à mesa comprida das professoras. Daí a presença da senhora Tung, que noutra ocasião passaria talvez despercebida (estirada a sala entre pátios de cimento e plantas verdes), se tornar nessa altura notável.
Baixa, seca de carnes, de olhos atenciosos, pensativos, a senhora Tung sorria constantemente, falava inglês, gostava de comer, de fumar, de jogar ma-jong. As criadas cortejavam-na nos corredores, preparavam-lhe pratos especiais, levavam-lhe chá ao quarto. Além de ser mãe da subdirectora, tinha fama de rica e distribuía moedas de prata a todo o pessoal na noite de festa.
Nessa noite assistiam três freiras ao nosso jantar (a regra não lhes permitia comer connosco): a directora, a subdirectora e a mestra dos estudos. E muito empertigada, segurando com ambas as mãos um tabuleiro de laca coberto com um pano de seda, a senhora Tung recebia-as à porta do refeitório, entregando cerimoniosamente o presente à filha, que por sua vez o oferecia à directora. Eram bolos de farinha fina de arroz amassada com óleo de sésamo. Toda de vermelho, de sapatos bordados e ganchos de jade no cabelo, a senhora Tung, quando a superiora colocava o tabuleiro dos bolos na mesa, dobrava-se quase até ao chão. Rezava-se, depois. Para lá dos pátios, à porta da cozinha, as criadas espreitavam, curiosas.
Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro Natal que passei em Macau, a senhora Tung era cristã, mas todos os anos se nomeava catecúmena. A seguir ao jantar falava-se nisso. A directora, uma francesa de mãos engelhadas que noutros tempos frequentara a Universidade de Pequim, perguntava em chinês formal quando era o baptizado. Inclinando a cabeça para o peito, a senhora Tung balbuciava, indicando a irmã Chen-Mou. A filha... a filha sabia. Talvez se pudesse chamar cristã pelo espírito, mas o coração atraiçoava-a. O coração continuava apegado a antigas devoções... Todavia, vestira-se de gala para a festividade da meia-noite, tinha no quarto o Menino Jesus cercado de flores, e a alma transbordava-lhe de alegria como se cristã verdadeiramente fosse.
Com um sorriso meio complacente meio contrariado, a irmã Chen-Mou desconversava, passando a bandeja dos bolos à superiora, que separava uns tantos para o convento. Os restantes comê-los-iamos nós, ao fim da Missa do Galo, com chocolate quente.
O chocolate era a esperada surpresa da directora. A senhora Tung chamava-lhe, em ar de gracejo, «chá de Paris». No fim das três missas vinham outra vez as três freiras ao refeitório do colégio para trocarem connosco o beijo da paz e nos oferecerem a tigela fumegante do chocolate. Vinham e partiam logo (tarde de mais para se demorarem), e Miss Lu, fanática terceira-franciscana, sempre atenta aos passos das monjas, sorvia à pressa o líquido escaldante, como quem cumprisse um dever, e saía atrás delas.
Ficávamos, assim, a senhora Tung e eu, uma em frente da outra. À luz das velas olorosas do centro de mesa, os seus olhos eram dois riscos tremulantes. Sorríamos. Finalmente, o reposteiro ao fundo da sala apartava-se. Uma das criadas entrava, silenciosa. Servia-se vinho de arroz.
Creio que o vinho de arroz figurava entre as bebidas proibidas no colégio e que chegava ali por portas travessas. O certo, contudo, é que ambas o bebíamos, a acompanhar os bolos de sésamo, no grande e deserto refeitório, na noite de Natal.
O vinho de arroz queimava-me a garganta e fazia-me vir lágrimas aos olhos. Quanto à senhora Tung, saboreava-o devagar, molhando nele o bolo, e, como mal provara o «chá de Paris», bebia dois cálices.
Entretanto, Aldegundes, a criada macaense mais antiga do colégio, aparecia com as especialidades da terra: aluares, fartes e coscorões, dizendo que aluá era o colchão do Minino Jesus, farte almofada, coscorão lençol. E eu traduzia em inglês para a senhora Tung, que achava isto enternecedor e gratificava a velha generosamente.
Quando por fim atravessávamos a cerca a caminho de casa, sob uma lua branca, espantada, anunciadora do Inverno para a madrugada, a senhora Tung abria-se em confidências.
A menina sabia... ― a «menina» era a irmã Chen-Mou, a subdirectora do colégio ―, sabia que ela continuava a venerar a Deusa da Fecundidade. Tratava-se de uma pequena divindade, toda nua e toda de oiro. Fora ela quem lhe dera filhos. Estéril durante sete anos, a senhora Tung recorrera à sua intercessão divina quando o marido já se preparava para receber nova esposa. Não podia portanto deixar de a amar. Toda a felicidade lhe provinha daí, dessa afortunada hora em que a deusa a escutara.
Parava a meio do largo átrio enluarado, de olhar meditabundo, mãos cruzadas no colo. E as palavras saíam-lhe lentas e soltas, como se falasse sozinha.
... E aquele mistério da virgindade de Nossa Senhora! Virgem e mãe ao mesmo tempo... Não se lia no Génesis: «O homem deixará o pai e a mãe para se unir a sua mulher e os dois serão uma só carne?» Não era essa a lei do Senhor? Porquê então a Mãe de Cristo diferente das outras, num mundo de homens e de mulheres onde o Filho havia de vir pregar o amor? A Deusa da Fecundidade, patrona dos lares, operava milagres, sim, mas racionalmente, atraindo a vontade do homem à da sua companheira e exaltando essa atracção. Como o Céu alagando a Terra na estação própria.
Retomávamos a marcha em direcção aos nossos aposentos. Difícil para mim responder às dúvidas da senhora Tung, nem ela parecia esperar resposta. Mudava, rápida, de assunto, aludindo ao tempo, à viagem de regresso, às saborosas guloseimas da criada macaísta.
Já em casa, convidava-me a ir ver o seu presépio. O quarto cheirava fortemente a incenso. Em cima da cómoda, entre flores, lá estava o Menino Jesus, de cabaia de seda encarnada, sapatinhos de veludo preto, feições chinesas.
Depois, timidamente, a senhora Tung abria a gaveta... e surgia a deusa.
O Menino Jesus era de marfim. A Deusa da Fecundidade era de oiro. O Menino, de pé, de um palmo de altura, trajando ricamente. A deusa, sentada, pequenina, nua.
Os olhos da senhora Tung atentavam nos meus, como se à procura de compreensão, mas as suas palavras prontas (a deter as minhas?) eram de autocensura. Não, não devia fazer aquilo. A filha asseverara que o Menino Jesus entristecia, em cima da cómoda, por causa da deusa, na gaveta. E quem sabia mais do que a filha ?
Eu já sentia frio, apesar da aguardente de arroz. O Inverno, ali, chegava de repente. A senhora Tung, no entanto, tinha as mãos quentes e as faces afogueadas.
Despedíamo-nos. Eu sempre me apetecia dizer-lhe que estivesse sossegada, que de certeza o Menino Jesus não havia de se entristecer, em cima da cómoda, por causa da deusa, na gaveta. Mas nunca lho disse nos três anos que passei o Natal com ela. Palpitava-me que a senhora Tung se enervava com o assunto. E que, de qualquer jeito, não me acreditaria.
Maria Ondina Braga
Do seu romance
A China Fica ao Lado,
Lisboa, Panorama, 1968
(Fonte do texto:
Centro Virtual Camões)
Arquivo digital do espólio de Maria Ondina Braga - Museu Nogueira da Silva
In Memoriam Maria Ondina Braga (1932-2003)