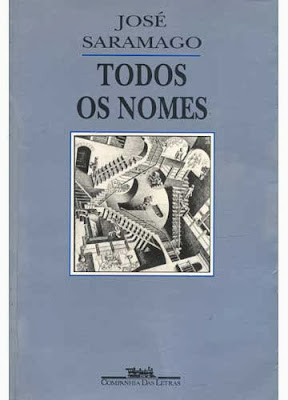Um poema de Fernando Pessoa, poeta português, recitado por Maria Bethânia, cantora brasileira.
EROS E PSIQUE
Conta a lenda que dormia
Uma Princesa encantada
A quem só despertaria
Um Infante, que viria
De além do muro da estrada.
Ele tinha que, tentado,
Vencer o mal e o bem,
Antes que, já libertado,
Deixasse o caminho errado
Por o que à Princesa vem.
A Princesa Adormecida,
Se espera, dormindo espera,
Sonha em morte a sua vida,
E orna-lhe a fronte esquecida,
Verde, uma grinalda de hera.
Longe o Infante, esforçado,
Sem saber que intuito tem,
Rompe o caminho fadado,
Ele dela é ignorado,
Ela para ele é ninguém.
Mas cada um cumpre o Destino
Ela dormindo encantada,
Ele buscando-a sem tino
Pelo processo divino
Que faz existir a estrada.
E, se bem que seja obscuro
Tudo pela estrada fora,
E falso, ele vem seguro,
E vencendo estrada e muro,
Chega onde em sono ela mora,
E, inda tonto do que houvera,
À cabeça, em maresia,
Ergue a mão, e encontra hera,
E vê que ele mesmo era
A Princesa que dormia.
Publicado pela primeira vez na revista Presença, núm. 41-42, Coimbra, maio de 1934.
Psiquê (em grego: Ψυχή, Psychē) é uma personagem da mitologia grega, personificação da alma.
Seu mito é narrado no livro O Asno de Ouro de Apuleio, que a cita como uma bela mortal por quem Eros, o deus do amor, se apaixonou. Tão bela que despertou a fúria de Afrodite, deusa da beleza e do amor, mãe de Eros - pois os homens deixavam de frequentar seus templos para adorar uma simples mortal.
A deusa mandou seu filho atingir Psiquê com suas flechas, fazendo-a se apaixonar pelo ser mais monstruoso existente. Mas, ao contrário do esperado, Eros acaba se apaixonando pela moça - acredita-se que tenha sido espetado acidentalmente por uma de suas próprias setas.
Com o próprio deus do Amor apaixonado por ela, suas setas não foram lançadas para ninguém. O tempo passava, Psiquê não gostara de ninguém, e nenhum de seus admiradores tornara-se seu pretendente.
Para saber mais sobre Eros e Psique(ê).
Para saber mais sobre Eros e Psique(ê).